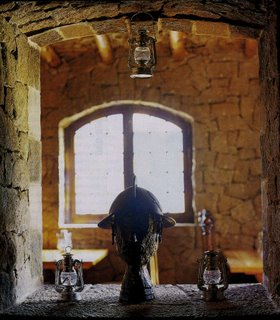Hoje, que já não mora em Salvador, o autor ainda sente a mesma emoção de sempre quando percorre os seus lugares de eleição.
Há duas maneiras de visitar uma cidade: uma é a de seguir pelas suas ruas identificando-a a par e passo, enumerando os seus lugares, as suas sombras, os seus pontos de luz. Outra, inteiramente diferente, é a de se perder nela como se fosse um labirinto, sem mapa, sem orientação, sem razão, apenas sabendo de que lado está o mar. Se menciono o mar é porque Salvador não existe sem ele. Porém, ao contrário de outras cidades, Salvador não o usa com aquela frequência carioca ou com a paciência de qualquer cidade com uma baía igual à sua: mas o mar de Salvador é a sua grande barreira, o seu grande recife contra o resto do mundo. E, a falar verdade, Salvador não existiria sem esse grande mar azul e brilhante que Ihe deu o nome original - o de Bahia de Todos os Santos, que infelizmente perdeu.
Para um soteropolitano (o habitante de Salvador, o natural de Salvador), o mar está sempre à porta: nas canções, na musica diabólica dos novos baianos, na sua cozinha de perdição, nas imagens que transportam o tom mais turístico da cidade. E o mar é aquele ponto urbano entre o Senhor do Bonfim e Itapoa, seu limite, passando pela Barra, por Ondina, por Rio Vermelho, Amaralina, pelos Jardins de Allah. Das «lavagens do Bonfim» ao Carnaval e às festas de Iemanjá, Salvador precisa do mar para ilustração — um mar de cartolina empurrado pelo vento, um mar ondulado e caloroso. Ao fim de um ano e meio de Salvador (o tempo em que lá vivi), aprendi a reconhecê-lo e a sentir a sua falta mal me afasto. Mesmo quando o passeio se alonga para Iá dos limites da cidade, na direcção da Costa dos Coqueiros, até Arembepe, Itacimirim, Guarajuba, até Imbassahy, até Mangue Seco, no cruzamento ou prolongamento com o Sergipe. Sobretudo quando o passeio nos leva até ao outro lado da baia, a Itaparica, a ilha do feitiço do pavão.
Hoje, que já não sou soteropolitano, sinto a mesma emoção de sempre quando percorro os lugares de eleição de Salvador, a começar pela zona do Pelourinho, evidentemente, porque traduz a grande alma da cidade, uma alma à solta, misturando religiões, credos, sensibilidades políticas, correntes culturais, musicais, experiências danadas. De certa maneira, Salvador e o Pelourinho são os dois nomes para a capital da fusão - entre aquilo que é naturalmente indígena, aquilo que é português e aquilo que é africano. Esse triângulo produz coisas fascinantes: uma arquitectura religiosa e monumental claramente portuguesa, entre o barroco e o rococó, as vezes romântica; a alucinante pluralidade de manifestações religiosas que vão dos resíduos de catolicismo lusitano à sua ligação com as religiões animistas africanas que resultam no poder extraordinário dos terreiros de candomblé (com os seus orixás, as suas danças, as suas musicas e o seu modo de vida) — são cerca de 500 terreiros de candomblé instalados na cidade; uma cultura negra fundamental; a disponibilidade para adaptar e devorar as outras culturas que se apresentam diante da Bahia de Todos os Santos - da italiana à libanesa, da portuguesa à eslava; uma gastronomia plural, exótica, feita de cruzamentos luso-africanos, procurando estabelecer uma relação triunfante com os perfumes da terra mas dando espaço para a pura invenção e para o atrevimento; um modo especial de se relacionar com o corpo, o sol, o mar, a ideia de trabalho. Isto faz da Bahia um território especial onde, apesar de as portas estarem abertas, não se entra sem cerimónia. Há rituais a observar, memórias a aprender, ritmos a incorporar. E um passado.
A começar pelas suas evocações: a memória da escravatura, das carreiras de África, do açúcar e do café, do candomblé, da capoeira, dos cheiros que vieram de África atravessando o mar e arrancando tradições de Angola e do Benim. E, depois disso, a Salvador dos religiosos, a Salvador das mil igrejas, da talha dourada, dos frades, dos clérigos, dos padres cultos, dos poetas rebeldes (como esse misterioso Gregório de Mattos, «o Boca do Inferno», tal a forma como falava da cidade que o mandou para exílio), dos poetas românticos, da sensualidade morena e tropical. Mas a minha cidade pessoal, o meu mapa da cidade é o que transcreve o traçado das ruas que saem do Pelourinho e passam pelas velhas lojas e armazéns do povo na Baixa dos Sapateiros. Esta é uma parte de Salvador, que não vem nos roteiros, o início da Salvador humilde e mesmo pobre, a cidade onde o sotaque muda até abismos impensáveis: lojas de ocasião, botecos sujos, amáveis, negócios escuros, discos baratos, amostra de desgraça. Essas ruas, se não me levam até ao Pelourinho, subindo, arrastam-me sem destino, meio perdido, entre o Carmo e o Bonfim, onde os miúdos mergulham no mar mesmo diante da igreja, entre Piatã e a Ribeira. Passo pelo beco dos Barbeiros e pelo dos Calafates, subo ou desço pela ladeira do Boqueirão ou pela da Preguiça, descanso no Largo 2 de Julho, vejo se ainda chego à praça Dodô e Osmar para homenagear a memória dos «trios eléctricos», sinto o mar perto da Rua Gamboa no passeio largo onde chegam os ruídos do fim da tarde.
Os turistas procuram o Mercado Modelo (qualquer viajante deve fazê-lo, evidentemente) pela manhã, discutindo preços e avaliando um artesanato que às vezes não se compreende - mas eu aconselho que se visite o Mercado Modelo (o das canções de Caymmi, de onde se vê melhor o Elevador Lacerda, verdadeiro símbolo da cidade) também ao fim da tarde, depois de abandonado por hordas de compradores de bijutarias e de lembranças: e que nos sentemos na esplanada, aproveitando os raios de luz do fim do dia, aproveitando o movimento dos ónibus, aproveitando o ultimo acarajé acabado de fritar, estaladiço (com o seu feijão fradinho catado, o azeite de dende de que não se gosta à primeira tentativa e que necessita de aviso ao estômago), o abará embrulhado em folhas verdes, a pititinga minúscula e salgadinha (e crocante, vinda do mar), o quibe dourado. Aproveitando. Que é um dos segredos de Salvador. Aproveitar tudo.
Dai, sobe-se a ladeira do Pelourinho, que é íngreme e pobre, de empedrado secular, até dar ao Terreiro de Jesus com aquela agitação gentil mesmo diante do Cravinho (a outra opção fica do outro lado da rua, na Igreja de São Francisco), um dos bares de minha eleição. Entro aí a qualquer hora, a partir das 5 da tarde, para provar as aguardentes, as misturas de cachaças e ervas, os fritos saborosos - e até à meia-noite, hora a que fecha as portas. O roteiro, a partir daqui, é anárquico e vai ao gosto do passeante, que ou descobre os seus restaurantes ou se engana na porta. Esclareço: cozido baiano, bolinhos de camarão, arrumadinhos (carne de sol, Iinguiça, farofa, feijão frade, pimentão...), quibes, xinxim de galinha, moquecas de peixe (e de camarão, e de siri, e do que quisermos), ensopados de mariscos, de peixe, de carnes, frango à passarinho com arroz de coentros, aipim frito, arroz de haucã, farofa simples ou com ovo, galinha caipira e vatapá, a lambreta (amêijoa pequenina) cheia de aromas, os sucos multicolores, o caruru, o pirão e a sinfonia de pimentas pecaminosas. Tudo isto na companhia, às terças-feiras, do ensaio geral do Olodum e da sua imensa bateria de atabaques, ou da marchinha do Swing do Pelô, afrodisíaco dançante que interrompe o jantar.
Há uma visão de Salvador que assenta muito no seu folclore - e há uma outra cidade que se esconde dos roteiros turísticos. É a cidade das lojas de novo design, a cidade do rock da cantora Pitty (sim, não há apenas axê e batuque), a cidade que desperta em redor dos pássaros do jardim do Campo Grande, a cidade de Amaralina (com lojas sofisticadas e cafés a não perder), a da tecnologia de vanguarda, a da invenção cultural que vai, escapando, aos poucos, dos lugares-comuns e da «desgraça baiana».
De cada vez que chego a Salvador, o que faço bastante, para minha felicidade, apetece andar à volta do seu rumor: partir para o interior do Recôncavo baiano, à procura da arqueologia industrial de Cachoeira (que já foi capital do Estado) ou de São Felix, das suas fazendas, dos seus perfumes e das suas estradas que levam sempre a surpresas inexplicáveis. Depois desses passeios, reencontro sempre aquela doce cordialidade de Salvador. O seu entardecer. Às vezes, confesso, apenas o seu amanhecer. Ando a pé aqui e ali, e observo, como um estranho invejoso, aquela disponibilidade preguiçosa da cidade onde fui feliz.
Onde comer
AL CARMO
R. do Carmo, 66
Tel. (71) 3242-0283
Fica na zona de Santo António, ou seja, por cima da Barra. Um dos expoentes da cozinha italiana em Salvador. Não proteste por se falar de cozinha italiana, uma vez que se trata de uma das grandes gastronomias do Brasil. Muito familiar, tem um petit gateau fascinante
GALPÃO
Av. Contorno, 660. Zona da Baixa, no Comercio.
Tel. (71) 3266-5544
Cozinha muito inventiva, contemporânea com traços baianos de vez em quando. E, neste momento, um must de Salvador. Além do mais, a vista é espantosa, sobre a toda baía; se o jantar é bom, acrescente-se que o mar, visto dali, e inigualável
IEMANJÁ
Av. Otávio Mangabeira, 4655, Jardim Armação
Tel. 3461-9008
É o melhor restaurante de comida baiana. Pratos principais: mariscada, moquecas, ensopados. Os quindins são superlatives.
MAMA BAHIA
R. Alfredo de Brito, 21, Pelourinho
Há mesas na sala e na rua. À noite passa o desfile do Swing do Pelô, uma bateria fantástica que espalha a sua música diariamente pelas ruas da zona. À terça, com o ensaio do Olodum, ainda mais.
in Revista Visão, nº 679 – 9 Março 2006